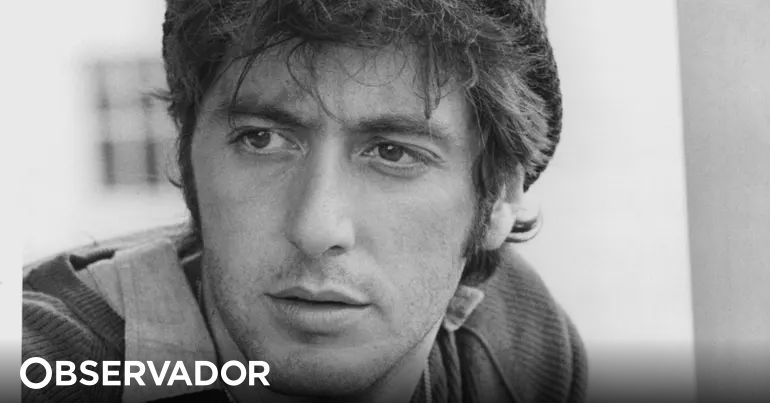De poucos em poucos quarteirões, havia terrenos baldios onde foram plantados jardins Victory no auge da Segunda Guerra Mundial. Depois de Eleanor Roosevelt ter criado o seu jardim Victory na Casa Branca, começaram a surgir um pouco por toda a parte, inclusivamente no bairro de South Bronx. Porém, quando chegou a nossa vez de podermos utilizá-los, depois da guerra, estavam atrasados e cobertos de entulho — as flores tinham ido para o Céu. Estas parcelas eram delimitadas por passeios. De quando em quando, ao olharmos para um destes passeios, víamos uma folhinha de relva a nascer no meio do cimento. Certa vez, o meu amigo Lee Strasberg designou assim o talento: uma folhinha de relva a crescer de um bloco de cimento.
Passámos a juntar-nos e a brincar nestes jardins Victory cheios de lixo. Resultaram em belos campos de beisebol se conseguíssemos reunir detritos suficientes para assinalarmos as bases. Muitas vezes, quando jogava beisebol num destes terrenos, vislumbrava, ao longe, o meu avô de regresso a casa, vindo do trabalho, por volta das cinco da tarde. Onde quer que estivesse, assim que o via, disparava ao seu encontro no passeio, quase sem lhe dar tempo para ali chegar, a fim de lhe pedinchar alguns trocos para um gelado.
Olhava-me do alto e entrava a mão no bolso até onde parecia ser o fundo das calças, tirando-a depois como uma grande dádiva: uma moeda cintilante. Dizia-lhe de fugida «Obrigado, avô!» e saía a correr. Se o visse passar quando estava a segurar no taco, gritava para lhe chamar a atenção na esperança de que me visse a bater a bola e a alcançar a base. Ele parava e ficava a observar cerca de um minuto e, sempre que isso sucedia, eu falhava. Todas as vezes. Quando voltava a casa, dizia-lhe que, depois de se ter ido embora, tinha conseguido um triplo, e ele acenava com a cabeça, sorrindo.
Nas vizinhanças, eu parecia ludibriar a morte com alguma regularidade. Sentia-me como um gato com bem mais do que nove vidas. Passei por mais percalços e acidentes do que aqueles que posso contar. Por isso, deste punhado, escolherei alguns que mais se destaquem ou tenham mais significado. Num dia de inverno, estava a patinar em cima do gelo do rio Bronx. Não tínhamos patins de gelo, e trazia calçado um par de ténis, fazia piruetas e exibia-me para o meu amigo Jesus Diaz, na margem. Num certo momento, enquanto me ria e ele aplaudia, atravessei subitamente a camada de gelo e caí nas águas geladas abaixo. Sempre que tentava arrastar-me para fora, o gelo não se aguentava, e eu voltava para a água gelada. Julgo que me teria afogado naquele dia não fosse o Jesus Diaz. Conseguiu encontrar um pau comprido com o dobro da sua altura, afastou-se tanto quanto pôde da margem e, com o pau, puxou-me para um local seguro. Como eu estava encharcado e gelado, levou-me daquele ambiente glacial para o apartamento que partilhava com a família num prédio em que o pai era o responsável pela manutenção. O Jesus Diaz deu-me roupas suas para vestir.
Por volta da mesma idade, passei por uma das mais constrangedoras experiências da minha vida. Sinto até algum embaraço ao contá-la agora, mas porque não? É para isso que aqui estamos. Eu não teria mais de 10 anos, e pus-me a andar em cima de uma fina vedação de ferro, como se dançasse sobre uma corda bamba. Chovera toda a manhã e, como seria de esperar, escorreguei, caí e a barra de ferro atingiu-me em cheio entre as pernas. Senti tantas dores que mal consegui andar até casa. Um rapaz mais velho viu-me a gemer pela rua, pegou em mim e levou-me até ao apartamento da minha tia Marie. Era a irmã mais nova da minha mãe e vivia no terceiro andar do prédio dos meus avós. Aquele bom samaritano estendeu-me numa cama e disse: «Fica bem, pá!»
Naquele tempo, era habitual os médicos irem a casa, ainda que os consultórios fossem ao fundo da rua. A minha família esperava pelo doutor Tanenbaum, e eu continuava deitado na cama com as calças completamente descidas até aos tornozelos, enquanto as três mulheres da minha vida — a minha mãe, a minha tia e a minha avó — me examinavam e pressionavam o pénis, meio em pânico. Eu pensava: meu Deus, leva-me agora enquanto as ouvia sussurrar entre si ao prosseguir com a inspeção. O meu pénis ficou bem ligado, bem como o trauma. Sou assombrado por este pensamento até hoje.
As nossas vizinhanças de South Bronx eram bem apetrechadas de personagens muito curiosas, a maioria inofensiva. Havia um sujeito que aparentava ter 30 e muitos ou 40 anos, que usava um cabelo em tonalidades de preto e vermelho e um fato e uma camisa de colarinho com uma gravata folgada e esfarrapada. Parecia saído de uma missa dominical em que as cinzas lhe foram despejadas em cima. Caminhava sozinho, tranquilamente, pelas ruas e quase nunca falava; quando o fazia, só dizia «Não matamos o tempo; o tempo é que nos mata». Nada mais. Acaso viesse ter connosco, uma vez que fosse, e nos dissesse «Como estão, amigos?», teríamos ficado em choque. Claro que eu desconfiava ligeiramente dele, como todos nós. Éramos como um bando de animais selvagens e sabíamos que ele era um ser á parte da nossa espécie. O nosso instinto dizia-nos que não era como nós e, por isso, nem queríamos saber mais. Limitávamo-nos a aceitá-lo. Nessa altura, havia uma maior noção de privacidade comparando com o mundo atual, uma certa conveniência e distância que as pessoas concediam umas às outras. Talvez ainda assim seja nas terras mais pequenas, e é algo que carreguei comigo ao longo da vida.