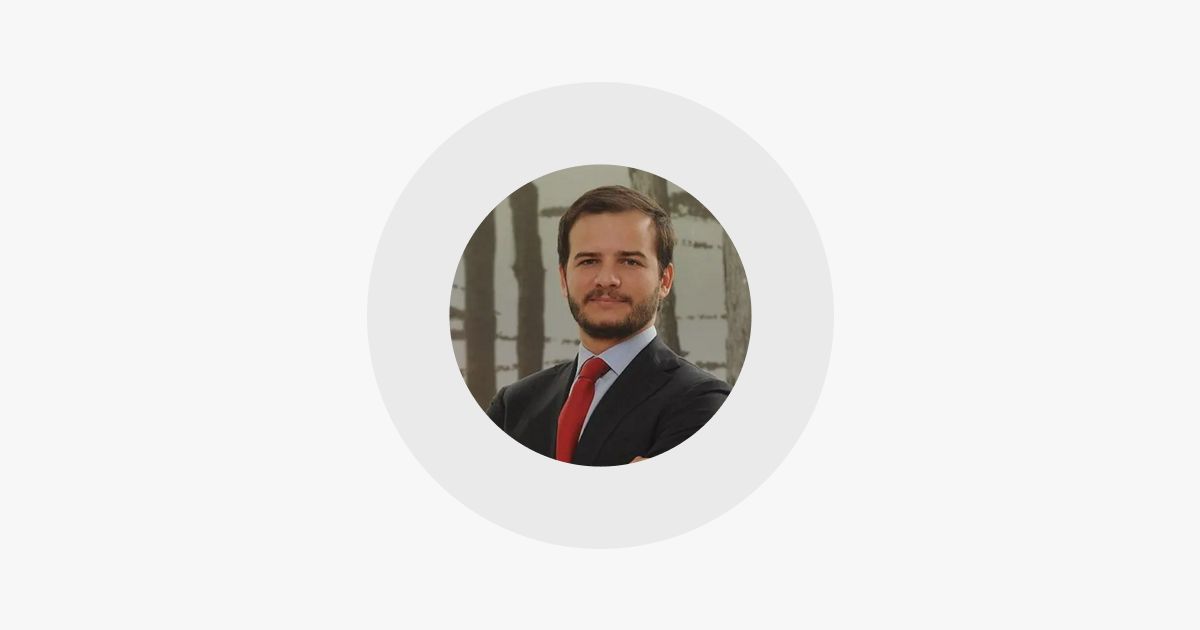A virulência do discurso de Donald Trump tem-se intensificado no final da campanha. Desde chamar “merdosa” a Kamala Harris, até defender a aplicação de atrocidades “puras e duras” contra quem comete furtos em lojas, não há discurso ou entrevista em que a violência não tenha destaque. Mas o mais espantoso tem sido as ameaças explícitas de retaliação e vingança contra os seus opositores, que já vão em mais de uma centena. Sendo provável que o eleitorado indeciso não queira uma guerra civil, afirmar que os adversários de esquerda podem vir a ser “tratados” pelo exército não parece uma receita para o sucesso.
Porque insiste Trump em fazer estas ameaças? Porque faz ele questão em mostrar-se vingativo? As lições do Império Assírio, considerado o mais sádico da História, ajudam na resposta.
Quem admirou os baixos-relevos na recente exposição do Museu Britânico, mostrando as tropas assírias a arrancar a língua e a pele dos prisioneiros, sentiu um calafrio de horror. As esculturas e os textos que esta civilização deixou relatam punições tão sanguinárias que nos deixam convictos de que a sua crueldade era algo que queriam deixar para a posteridade.
A exibição oficial do sadismo é estranha, pois os outros regimes tudo fizeram para esconder de terceiros a sua extrema violência (o Khmer Vermelho, o Colonialismo Belga, o Nacional-Socialismo) ou procuraram justificá-la como um meio para atingir um bem maior (a União Soviética de Estaline, a Primeira Cruzada). De resto, grande parte das histórias de terror foram deixadas à História pelos opositores, para demonstrar a depravação do inimigo (os Romanos sobre os Hunos, os Gregos sobre os Persas, os Cristãos sobre os Vândalos).
Hoje existe um consenso de que o Império Assírio publicitou a sua crueldade como peça central na sua estratégia de intimidação e dominação. Quanto mais horrível fosse a sua fama de sadismo, menos oposição tinha. Note-se que a sanguinolência não era uma característica ocasional, que irrompia em certas ocasiões, pois tal não os distinguiria dos povos vizinhos. Pelo contrário, era uma marca definidora, intrínseca, uma certeza de vingança sem misericórdia que infundia um terror tão grande que, segundo se conta, membros de uma família real opositora pediram para ser mortos antes da batalha contra os assírios começar. Assim sendo, no cálculo das alianças e contra-alianças mesopotâmicas, o terror assírico pesava decisivamente a favor destes.
Quem apoia os vencedores pode contar, em maior ou menor medida, com um tratamento benevolente pelo poder. Este truísmo é tão mais evidente quanto maior for a corrupção e o amiguismo do regime. Mas mesmo nas democracias maduras, e por mais que sejam criadas leis ou códigos de conduta, esta benevolência tende a manifestar-se, pois é da natureza do poder querer manter-se e, para tal, precisa de apoiantes. Essa prática é bem encapsulada na frase apócrifa, atribuída a Getúlio Vargas: “Para os amigos, tudo; para os inimigos, o rigor da lei”.
O que Trump pretende é trazer um elemento novo para este cálculo político. Ao publicitar a sua natureza vingativa, Trump incute nos seus putativos opositores a certeza de uma retaliação impiedosa, que não será limitada por aspetos triviais como a lei vigente. Pois se ele ameaça lançar o exército contra os seus concidadãos que estão contra ele, não será certamente a regulamentação em vigor que o irá impedir de esmagar política e economicamente quem lhe faz frente.
A estratégia assírica é aqui bem visível. E os ganhos para Trump são óbvios, por exemplo, na forma como grande parte dos seus opositores dentro do Partido Republicano foram, um a um, convertidos em aliados. O caso de Nikki Haley é elucidativo, pois ela foi pessoalmente enxovalhada de forma indigna por Trump, sendo depois forçada a prestar-lhe vassalagem. Tudo por receio de ver a sua carreira política destruída pela certeza da vingança sem misericórdia trumpista.
Mas o campo em que esta estratégia dá mais dividendos é o empresarial. É bem sabido que os grandes empresários não têm sido conhecidos pela sua coragem na oposição a regimes pouco recomendáveis. Há duas razões para isso, uma mais prática e outra mais teórica.
A primeira resulta do facto de estarem mais expostos aos caprichos do poder político. Desde a tendência de cair pela janela na Rússia de Putin, até à atribuição de contratos públicos na Península Ibérica do passado recente, amigos e opositores económicos dos regimes são facilmente manipuláveis pelo poder político.
Já a razão teórica decorre do facto dos atores económicos jogarem um jogo diferente dos atores políticos. Como explica Will Storr no seu excelente livro The Status Game, cada pessoa joga o seu jogo, com as suas próprias regras e com a sua própria finalidade. Neste sentido, os grandes empresários jogam para maximalizar o seu poder económico, fazendo os seus cálculos nesse sentido. E raramente essas contas favorecem o confronto direto com o poder político, sobretudo se este for impiedoso e violento.
Como em tantas outras esferas, o funcionamento do III Reich é aqui elucidativo. O dia 20 de fevereiro de 1933 ficou conhecido pela reunião entre Hitler e os 24 grandes industriais alemães, onde estes se comprometeram a fazer uma avultada contribuição para o partido Nazi. A forma como decorreu a reunião é bem conhecida e tem tido várias leituras. Éric Vuillard, vencedor do Goncourt de 2017, lança um dedo acusador a estes industriais, descrevendo-os como velhos corruptos, austeros, disciplinadamente amestrados pelos nazis, sem moral e aliviados por poderem vender a alma a troco de três milhões de marcos. Já Ian Kershaw tem uma leitura diferente, concluindo que esta contribuição resultou de uma pura extorsão pelo poder político. De facto, perante a ameaça de força física, bem presente naquela sala de reuniões, o que poderiam fazer os empresários?
Maquiavel só aborda o tema de forma oblíqua, centrando-se no líder e não na perspetiva dos subordinados. Um guia mais útil é a famosa aposta de Pascal.
Blaise Pascal apresentou um argumento teológico para a crença em Deus baseada num raciocínio pragmático. Segundo ele, é mais racional conduzir a vida como se Deus existisse, uma vez que os ganhos potenciais (a vida eterna) são infinitamente mais recompensadores do que as perdas finitas (abdicar de alguns prazeres terrenos) se Deus afinal não existir. A aposta é simples: apostando na Sua existência, temos tudo a ganhar caso Ele exista e pouco a perder se Ele não existir; mas se apostarmos na Sua não existência, temos tudo a perder caso Ele exista e nada a ganhar se, efetivamente, Ele não existir.
Aplicando o raciocínio pascaliano aos grandes empresários, temos que se apostarem na vitória de um líder impiedoso e este ganhar, eles também têm tudo a ganhar; se falharem e ganhar o líder benevolente, têm pouco a temer. Pelo contrário, se apostarem na vitória do líder benevolente e este ganhar, eles também ganham, embora previsivelmente menos do que na hipótese anterior; mas se falharem e o líder impiedoso ganhar, o preço que terão de pagar às suas mãos será terrível.
É revelador o facto de Elon Musk ter declarado o seu apoio a Trump menos de 48 horas após o atentado em Butler. Este apoio não decorreu das propostas ou das campanhas eleitorais, mas sim de um facto sem significado para determinar qual será o melhor Presidente. No entanto, o cálculo político foi o de que Biden não teria grande hipótese após aquele acontecimento, sendo então fácil aplicar a aposta de Pascal.
Há poucos dias, Jezz Bezos terá impedido que o Washington Post manifestasse o seu apoio a Harris (o mesmo aconteceu no Los Angeles Times por ordem do acionista). Foi noticiado que, horas depois da decisão do famoso jornal, Trump recebeu dirigentes da empresa de Bezzos que tem um contrato de 3.4 mil milhões de dólares com a NASA. Uma vez que a probabilidade de vitória entre Trump e Harris é de 50%, é lícito concluir por um cálculo pascaliano por parte de Bezzos.
Vuillard conclui o seu relato daquela tarde em 1933, dizendo que ainda hoje se ouvem as 24 máquinas de calcular às portas do inferno. A estes juntam-se agora uma dúzia de tecno-oligarcas.