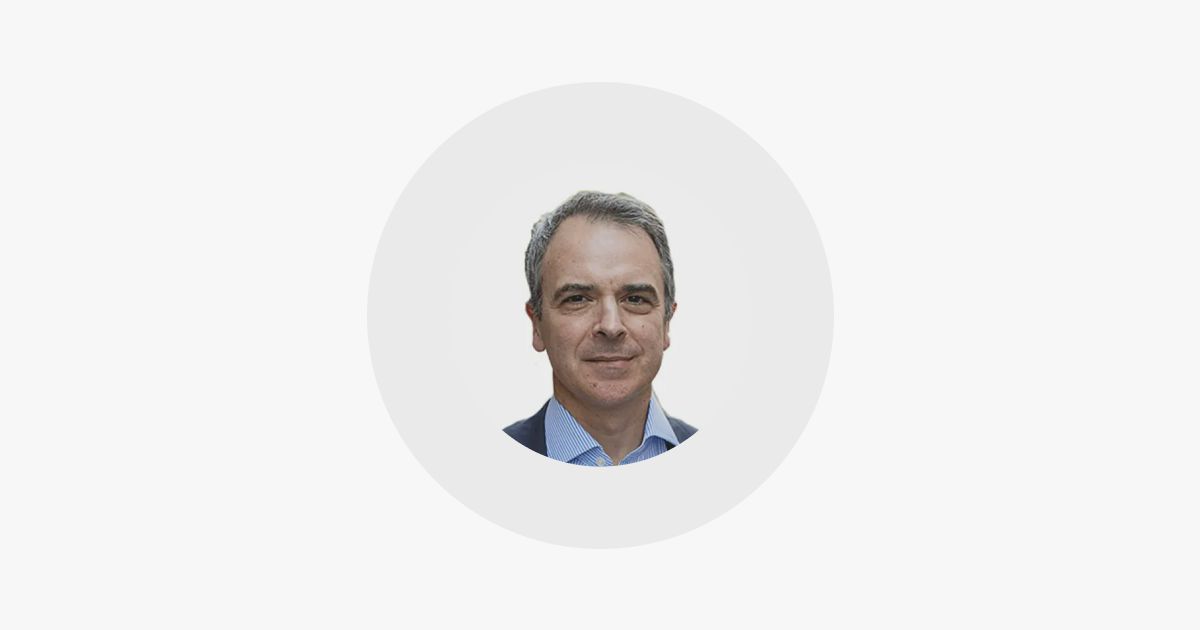Há anos que o ditador Assad, amparado pela aviação de Putin e pelas milícias do Irão, movia uma guerra sem quartel à população da Síria. Quando apertado, não hesitou em usar armas químicas contra as cidades em rebelião. Até que, no fim de semana passado, subitamente, Assad fugiu para Moscovo. Nas ruas, os sírios festejaram. Mas nos estúdios do Ocidente, os sábios de serviço puseram as suas caras mais pesarosas, e vieram recomendar-nos grandes colheradas de angústia e de apreensão. Um tirano sanguinário caiu? Fechem portas e janelas, que o mundo ficou mais perigoso.
É preciso uma grande paciência para aturar o comentário ocidental. Tem lá dentro uma espécie de máquina de perder, que nos quer convencer de que o Ocidente nunca pode ganhar, ou que, quando parece ter obtido uma vitória, é apenas o prelúdio de uma catástrofe maior. Dá-nos ideia de como o problema ocidental não é propriamente de força, mas de vontade: a força existe, mas existe ao mesmo tempo um fantasma sempre a murmurar que não vale a pena, que tudo está perdido. Não é prudência. Não é sequer cepticismo. É a ingenuidade de uns, facilmente desorientados pela complexidade do mundo, e são os preconceitos de outros, que, contrários à causa da democracia liberal e da economia de mercado, se empenham em prognosticar-lhe desastres constantes.
A queda de Assad resultou de um sucesso que toda a sabedoria televisiva nos explicou que Israel nunca poderia ter. Lembram-se? O Hamas era indestrutível, o Hezbollah tinha um arsenal enorme, e o Irão estava destinado a reinar no Médio Oriente. Era inútil lutar. Acontece que Israel, tal como a Ucrânia perante a Rússia, lutou. Destruiu o Hamas em Gaza, humilhou o Hezbollah no Líbano, e expôs a impotência dos teocratas iranianos. A queda de Assad, que dependia do Irão e das suas milícias, é a prova de que era possível lutar e vencer. Porque é que nunca, fora de Israel, se admitiu isso? Por duas razões. Primeiro, porque para o resto do Ocidente, a retirada e a derrota são opções. Os EUA podem perder uma guerra e continuar a existir. Israel, não. Segundo, porque a esquerda ocidental, que rege as universidades e a comunicação social, está cheia de gente para quem o Ocidente é o mal do mundo. Isso leva-os a desejar o triunfo de qualquer regime ou movimento que seja anti-ocidental, e a confundir depois o seu desejo com a realidade.
O regime de Assad era um veículo da influência do Irão e da Rússia no Médio Oriente. Mantinha a rota pela qual eram abastecidos e orientados o Hezbollah e o Hamas. A sua destruição é uma boa notícia para quem cuida da defesa do Ocidente. E não, uma vitória ocidental não tem de ser idêntica à transformação da Síria numa nova Suíça, ou ao advento da paz total e definitiva no Médio Oriente. Essa é a outra confusão que alimenta o derrotismo ocidental. O mundo nunca será igual ao Ocidente nem nunca corresponderá exactamente aos seus ideais: o hard power do colonialismo não o conseguiu, nem o soft power da globalização. O mundo é complexo, e uns inimigos substituirão os outros. Não deve haver ilusões a esse respeito: a defesa do Ocidente nunca terá fim. Pode bem ser que no lugar do derrubado ditador sírio venha a estar em breve outra situação ou regime igualmente funestos. Mas isso não é razão para desesperar e começar a ter saudades de Assad. O Irão está em desvantagem no xadrez que começou a jogar com o ataque a Israel em 2023: é isso que neste momento mais importa. A salvação não é deste mundo. O que é deste mundo é a luta. Talvez não nos seja dado mudar o mundo, mas podemos derrotar os nossos inimigos. Em épocas menos ingénuas, os ocidentais souberam isso. É tempo de o voltarem a aprender.