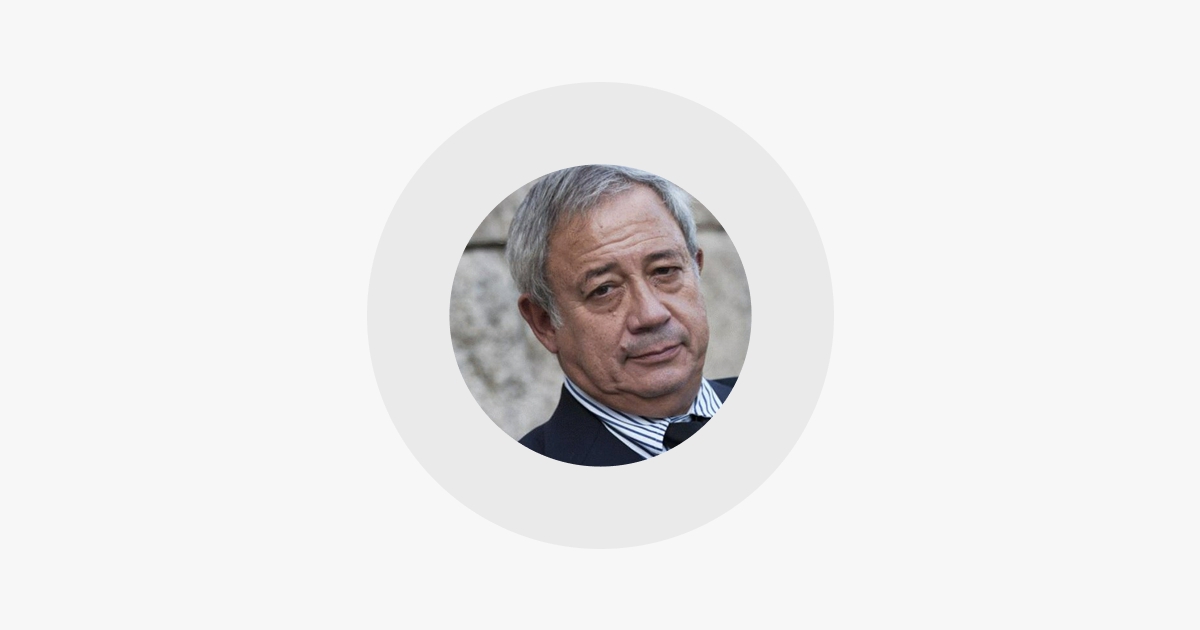O anúncio da vitória de Maduro chocou-me, mas não me surpreendeu. Que um ditador de esquerda que criou uma cleptocracia autoritária bem apoiada por “forças da ordem” e por milícias populares saísse pelo seu pé do poder num país que arruinou, isso sim, seria surpreendente.
As “Repúblicas Democráticas” instaladas na Europa de Leste nunca primaram pela democracia. Tinham sido impostas pelo Exército Vermelho na sua marcha para Oeste, em luta com a Wehrmacht. Depois, os partidos comunistas, com a cumplicidade dos ocupantes soviéticos e às vezes com interlúdios de aparência democrática encarregaram-se de tomar o poder – saneando a Direita sob o pretexto de “colaboração” – e de exercer esse poder pelo terror policial, pela denúncia e pela repressão sem limites.
Sempre que estes regimes estiveram em perigo por protestos populares, a intervenção militar soviética repôs a ordem. Foi assim em Berlim – Potsdam e na Alemanha Oriental em Junho de 1953, em Budapeste em 1956, em Praga em 1968. Por isso, quando Gorbatchev anunciou a “doutrina Sinatra”, isto é, o fim da intervenção militar de Moscovo para segurar os “regimes-irmãos”, as “repúblicas democráticas”, entregues a si mesmas e ao seu caminho, duraram pouco tempo.
Mas o chavismo chegou depois do fim da URSS. Chávez tentou e falhou, em Fevereiro de 1992, um golpe do MBR-200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200). Era um golpe contra o segundo governo de Carlos Andrés Pérez, que fora presidente de 1974 a 1979, quando nacionalizou as indústrias siderúrgica e petrolífera, e que voltara a ser eleito em 1989 e lançara políticas de austeridade.
A Venezuela é, entretanto, um paradigma da ascensão e queda de uma petroeconomia: um país que vive de um recurso material, de uma matéria prima – o petróleo – e que o exporta. Está, assim, à mercê das flutuações do preço do petróleo nos mercados, sem que tenha capacidade de o determinar ou sequer de influenciar, ao contrário de gigantes como a Rússia ou Arábia Saudita.
Com as petroeconomias vem geralmente o chamado “mal holandês” – a concentração da riqueza num núcleo central, a criação de uma elite restrita de beneficiários, o abandono de outras actividades produtivas, agrícolas ou industriais, a corrupção, a cleptocracia.
É uma longa e triste história. Em 1922, os geólogos e engenheiros da Royal Dutch Shell encontraram petróleo em La Rosa, um campo petrolífero na baía de Maracaíbo com uma produção, ao tempo muito alta, de 100 mil barris/dia. A produção cresce rapidamente, multiplicam-se as companhias prospectoras e em 1929 a Venezuela torna-se o segundo produtor mundial de crude, depois dos Estados Unidos.
Esta ascensão passou-se durante os governos ditatoriais do general Juan Vicente Gomez (1908-1935). À época, três companhias – a Shell, a Gulf e a Standard Oil – dominavam o mercado. Em 1943, a nova Lei dos Hidrocarbonetos obrigou as empresas a entregar metade dos lucros petrolíferos ao Estado.
Em 1958, depois de vários governos ditatoriais, o último dos quais de Marcos Evangelista Pérez Jiménez, houve uma democratização das instituições, acompanhada de um pacto entre os três partidos principais (Acción Democrática, Unión Republicana Democrática e Comité de Organización Política Electoral Independiente) para a tripartição dos lucros de petróleo, consoante a percentagem eleitoral de cada um dos três partidos. E em 1960, a Venezuela, senhora das maiores reservas do mundo, entrou para a OPEC, Organização dos Países Exportadores de Petróleo.
A partir do Outono de 1973, com o quadruplicar dos preços do crude a seguir à guerra de Yom Kippur, a Venezuela tornou-se o país da América Latina com mais alto rendimento per capita. Foi sob este vento generoso que Carlos Andrés Pérez nacionalizou a indústria, criando a companhia pública Petróleos da Venezuela AS.
Mas é da natureza do petróleo a oscilação dos preços, que os grandes países produtores podem usar e controlar, embora por vezes com grandes desaires. Pérez, que fora eleito em Dezembro de 1988, tentou impor a austeridade, mas provocou o descontentamento popular com as medidas do FMI, que levaram a prolongadas e violentas manifestações.
Com o “Caracazo”, em Fevereiro de 1989, uma onda de motins em Caracas e noutras cidades importantes da Venezuela que provocou centenas de mortos, repetia-se o ciclo tradicional – euforia petrolífera, endividamento, queda dos preços do crude, subida dos preços essenciais, intervenção do FMI, medidas de austeridade, revolta.
O chavismo veio daí. Chávez tentou um golpe militar falhado em 4 de fevereiro de 1992, mas depois, em 1998, ganhou as eleições. Retomou a ideia do Caudilho das independências latino-americanas, Simon Bolivar, El Libertador, e do seu mestre, Simon Rodriguez, de que o subcontinente americano, do México ao Chile, devia ter a sua própria doutrina política. E essa doutrina seria um nacionalismo anti-imperialista americano, populista e socialista.
No rescaldo do triunfo, Chávez accionou mecanismos progressivos de controlo para chegar a um “socialismo do século XXI”, livre do anátema do fracasso dos Estados policiais de tipo soviético do século XX. Este novo modelo de socialismo afirmar-se-ia na Venezuela, com Chávez e com o seu sucessor Maduro, e no Equador, com Rafael Correa e com Lenin Moreno (cujo nome completo, Lenin Boltaire Moreno Garcês, era já de si todo um auspicioso programa)
Com o chavismo, a Venezuela mergulhou, não no socialismo idealizado do século XXI, mas numa modalidade mais branda de Estado socialista policial, que arruinou o país e levou à emigração de sete milhões de venezuelanos.
Agora, depois da fraude maciça anunciada por Maduro, o país está numa encruzilhada entre a submissão do povo à fraude e a instabilidade crescente. Não havendo submissão, restam dois caminhos: ou há uma intervenção mais ou menos enérgica da comunidade de nações latino-americanas que convence Maduro e a sua clique a aceitar uma revisão das actas eleitorais e uma transição negociada em que saiam pacificamente, dando lugar aos vencedores; ou Maduro não se deixa convencer, consegue manter a unidade das forças armadas, policiais e securitárias, e continua a lutar contra “a extrema-direita, os fascistas e os lacaios dos americanos”, reprimindo a contestação popular pela força das armas. O resultado será um processo de guerra civil de baixa intensidade, com dezenas de mortos, centenas de feridos, milhares de presos, dezenas de milhares de refugiados e milhões de venezuelanos dispersos pelos países vizinhos, rumando aos Estados Unidos e passando pela Colômbia e pelo Panamá.
Num recente inquérito, 18% dos venezuelanos afirmam que se o chavismo ganhar as eleições, abandonam o país. De resto, sem escolas para os jovens nem saúde para os mais velhos, é natural que quem já emigrou para países vizinhos procure retirar da Venezuela os seus familiares, sobretudo os que precisam de medicamentos e de tratamentos especiais.
Colectivos diplomáticos como o G7 e a OEA estão a exercer alguma pressão sobre o governo de Caracas, manifestando dúvidas sobre a versão oficial dos resultados eleitoriais e não reconhecendo a vitória de Maduro. O Carter Center também não a reconheceu.
Da “maldição” do petróleo – a Venezuela tem as maiores reservas do mundo – à “bênção” do socialismo bolivariano, a Venezuela e o seu povo não param de sofrer.