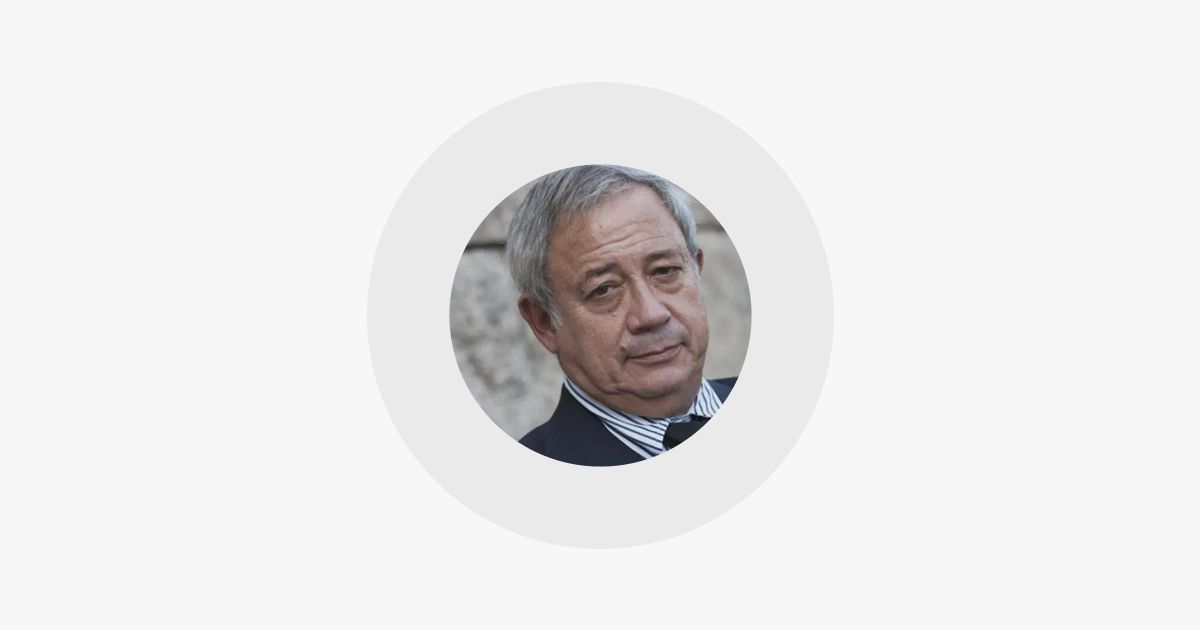Num tempo de pessimismo em relação à política e aos políticos, os eleitores têm vindo a confirmar experimentalmente a famosa frase do realista cínico Talleyrand, de que a escolha em política é sempre “uma escolha entre dois inconvenientes”.
Por estes tempos, este parece ser o paradigma da luta política no mundo euroamericano. O facto de, no resto do mundo, poder o inconveniente ser ainda maior e nem sequer haver escolha não tem servido de grande consolo para quem, por aqui, se vê perante o esvaziamento racional e ideológico e a simplificação “emocional” dos “inconvenientes políticos” em jogo, representados por estridentes personagens de wrestling, como que vindas de mundos inconciliáveis.
Tentemos, com alguma calma, guardar o senso comum. Mesmo estando em claques opostas, em oposição radical, mesmo tornando-nos inimigos no sentido schmittiano do termo, tentemos pensar que nem tudo é o que parece, que há causas e consequências reais em jogo e que há pessoas boas ao serviço de causas más e pessoas más ao serviço de causas boas. Até na América.
As eleições americanas afectam-nos e vão afectar-nos a todos. Sobretudo num mundo perigoso, com dois conflitos quentes na Europa Oriental e no Médio-Oriente, uma dezena de potências nucleares, uma ordem internacional em falência e em processo de substituição por ordem multipolar em caótica ascensão e uma comunicação social mais empenhada em narrativas ideológicas úteis para os seus objectivos do que na descrição e na análise objectiva dos factos. Um mundo perigoso onde a tecnologia permite a grupos não estatais organizados causar efeitos desproporcionais para a sua capacidade e onde há todo um novo patamar de propaganda, com mundos virtuais paralelos, antagónicos, cruzados.
É neste quadro que nos Estados Unidos se vão travar as mais que decisivas eleições de 5 de Novembro de 2024. Inicialmente eram para ser disputados pelo actual presidente, Joe Biden, e o ex-presidente, Donald Trump, mas depois da pobre prestação de Biden no debate com Trump, o Partido Democrático, mostrando disciplina e obediência a cúpulas nem sempre visíveis, procedeu ao defenestramento do Presidente (que até aí defendera como habilíssimo e preparadíssimo, contra “insinuações reaccionárias” de eventuais deficiências de memória e raciocínio do re-candidato). Fê-lo expeditamente, ultrapassando regras de democracia interna e substituindo-o por uma vice-presidente até aí quase simbólica, usada em 2020 para equilibrar o centrista moderado Biden com a ala mais à esquerda do partido.
Assim, do dia para a noite, a figurante de conveniência foi convertida por uma poderosa máquina de propaganda numa nova e excepcional criatura, capaz de governar a América.
Curiosamente, o que vimos, foi a preocupação de esvaziar e moderar a imagem da candidata, de a desradicalizar, de lhe retirar a carga de esquerda, de a livrar das ideias e dos actos do passado a fim de a tornar aceitável para independentes e moderados, enfim, para as classes médias. O mesmo para o seu co-equiper na vice-presidência, o governador do Minesota, Tim Walz, outro radical da legislação anti-Vida e do wokismo transgénero, que passou a ser aquilo que até já parecia – um cordato chefe de família com quem se toma uma cerveja à tarde, na doçura de uma cidade pequena do Minesota, desfrutando da american way of life.
Este é um lado da equação. Do outro lado está Donald Trump. Trump tem um passado liberal-chique, de tycoon do imobiliário, de anfitrião de reality shows e de mulherengo do show business. Quando, em 2016, encabeçando os descontentes do “sistema” e promovendo uma agenda conservadora, bateu os candidatos da direita republicana nas primárias e foi eleito, a surpresa foi geral. Apesar do seu estilo excitado e por vezes brutal, apesar da febre de nomeações e demissões de colaboradores, Trump não “acabou com a democracia” e dirigiu uma Administração conservadora e realista sem novas guerras e com um sucesso apreciável na reconciliação do Médio Oriente. Internamente, a economia correu bem. No final foi leviano no modo como destratou a Covid-19 e os seus efeitos e isso pode ter-lhe custado a reeleição.
Independentemente das razões, foi também pouco feliz no modo como lidou com o ataque ao Congresso, em Janeiro de 2021, por alguns dos seus partidários, um gesto de populismo desastrado que rendeu munições sem fim aos seus inimigos.
Apesar de tudo isto e do histrionismo excêntrico e aparentemente caótico do candidato a Presidente, se eu fosse norte-americano, votaria na dupla Trump-Vance. Em Trump, como mal menor, em Vance por identificação com os seus valores de nacionalismo conservador e popular. Porque o que está em jogo não é a personalidade mais ou menos coerente, mais ou menos simpática, mais ou menos capaz de enumerar em público bons e sãos princípios de cada um dos candidatos, mas a política e as políticas que querem e vão prosseguir e as suas consequências.
Desde logo, com Trump e apesar de Trump, uma política internacional realista – e não ideológica, como a dos neocons que, da Administração George W. Bush, liderados pelo Vice Dick Cheney, até às administrações democráticas, do Iraque à Líbia e ao Afeganistão, foram levando o caos ao Médio Oriente e a humilhação ao Ocidente. E uma política que conduza, efectiva e rapidamente, a Europa e o Médio Oriente à paz. E o virar de página sobre uns Estados Unidos reféns de agendas radicais, a exportarem como valores da América e do Ocidente as bandeiras do wokismo e fazendo depender programas de ajuda da adopção de um alucinado catálogo de fatais experimentalismos.
É com espanto que vejo amigos e conhecidos, muitos deles católicos, que, por detestarem Trump, se declaram agora simpatizantes de uma dupla de abortistas radicais até ao nono mês (o “sofrimento psicossocial”, que passou a integrar a lista dos critérios elegíveis para a “inviabilidade do feto”, também justifica aborto até aos nove meses), e com vontade de estender a prática, por lei, a toda a América. O facto de considerarem Trump “mentiroso” ou “grunho” não me parece razão suficiente para “endossarem” uma Kamala algures entre o saco de vento e a caixa de Pandora.
Já quanto a J.D. Vance, o segundo de Trump, poucas vezes um político americano terá tido um pensamento tão coerente, estruturado e sofisticado.
Dito isto, o debate correu mal a Trump. Kamala Harris seguiu um guião bem ensaiado: grandes, bons e generosos princípios, a união de todos independentemente da cor da pele, um qualquer virar de página (sobre a própria Administração?), uma espécie de sermão da montanha secularizado, entremeado de modo tranquilo com provocações ao adversário e mentiras descaradas, como a sua história do fim da guerra no Afeganistão, logo contraditada – não evidentemente, ali, pelos pivots – mas pelo general Keith Kellogg, que participou nas negociações.
Trump pôs de lado o sentido de humor e pose presidencial e foi-se deixando levar pelas estudadas provocações da adversária. E foi sendo excessivo, o que lhe é habitual, mas o que, desta vez, lhe foi prejudicial. Por exemplo, sabendo-se que Harris e Waltz são pelo aborto incondicional e sem prazo, para quê acrescentar um ponto, e falar em assassínio de recém-nascidos? Sendo a imigração ilegal um flagelo na América, para os que chegam e para os que estão, e tendo Kamala Harrris demonstrado a sua incompetência em controlá-la, para quê trazer a história dos imigrantes que devoram os animais de estimação dos “bons americanos”? Para quê voltar à fraude eleitoral? Porquê não condenar claramente a invasão do Capitólio, mesmo insistindo na bondade do próprio discurso, e continuar a atribuí-la exclusivamente à (real) recusa de Nancy Pelosi de reforçar a segurança? Porquê não recordar mais oportuna e factualmente a actuação da candidata democrata quando do violento “assalto às instituições” por militantes do Black Lives Matter?
De qualquer forma, não parece que o debate tenha tido grande efeito sobre o eleitorado, mantendo-se os candidatos muito próximos, quer na totalidade da massa eleitoral, quer nos Estados decisivos.
Quanto à parcialidade da comunicação, não devem nem podem restar dúvidas. A narrativa mediática dos grandes meios e da chamada “informação de referência” – do New York Times ao Economist, do Le Monde ao El País e aos nossos correspondentes e comentadores – não se dá sequer ao trabalho de simular isenção. Porque afinal, no ringue de combate, alguém tem de encarnar o Mal; e Trump, a besta loira, o diabo em pessoa, fá-lo na perfeição.
Na vida real, só fica uma dúvida: ou o Diabo, que costuma ser subtil e insidioso, está a perder qualidades e as coisas passaram a ser o que parecem, ou também anda a serpentear por outras bandas, sob a aparência de Bem.