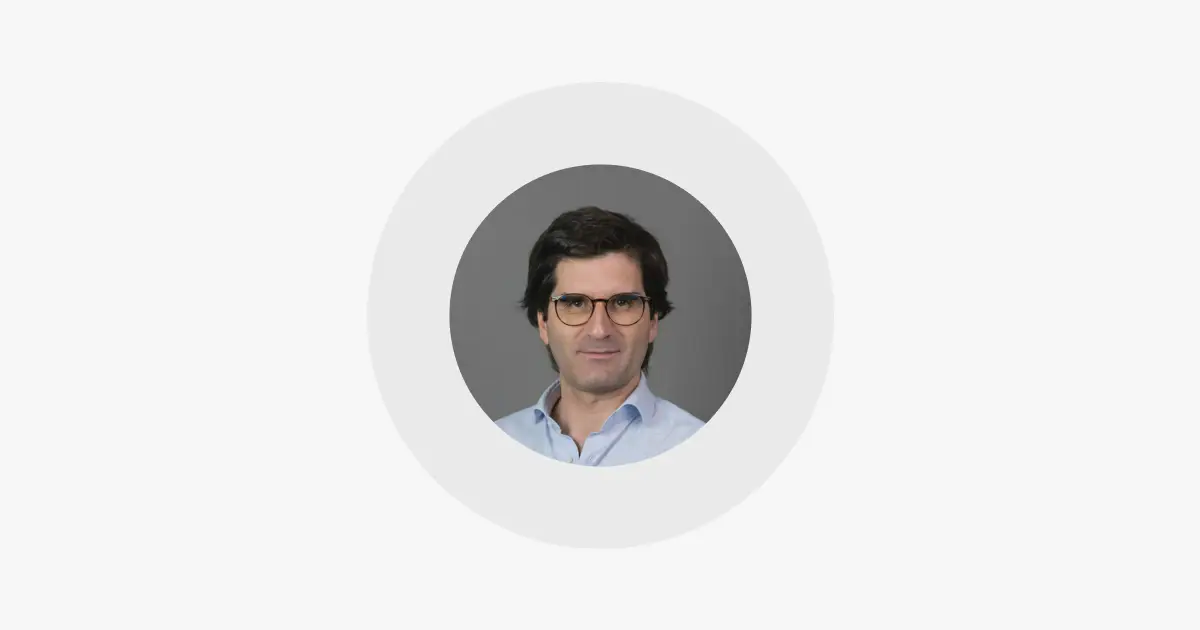Anda por aí uma enorme excitação. O país político pergunta-se, desorientado: “Santo Deus, de onde vêm os votos do almirante Gouveia e Melo?” Há várias teorias que tentam explicar o facto de as sondagens mostrarem uma predisposição dos eleitores para votarem em alguém que não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com os partidos, e que, mesmo sendo ainda chefe do Estado-Maior da Armada, não tem nada a ver com essa entidade mítica a que alguns chamam “sistema”. Teoria n.º 1: é da altura. Gouveia e Melo é muito alto, outros protocandidatos são muito baixos e os portugueses, podendo escolher, como é evidente preferem ter um Presidente alto e que, precisamente por ser alto, não é baixo. Teoria n.º 2: é da cor dos olhos. Gouveia e Melo tem olhos azuis, outros protocandidatos têm os olhos castanhos e os portugueses, podendo escolher, como é evidente preferem ter um Presidente com olhos azuis e que, precisamente por serem azuis, não são de outra cor mais vulgar. Teoria n.º 3: a roupa. Gouveia e Melo usa farda, outros protocandidatos usam um entediante fato com gravata e os portugueses, podendo escolher, como é evidente preferem ter um Presidente que usa farda e que, precisamente por usar farda, não usa um simples fato com gravata — e nem me ponham a falar sobre os calções de banho para mergulhos no mar.
Como se vê, dizem-nos que está tudo controlado. Segundo as mentes mais brilhantes da nossa política, se Gouveia e Melo não se apresentasse com aquelas três fúteis caraterísticas, começaria a despencar nas sondagens e só pararia quando aterrasse nos 0,9% que o último estudo de opinião dá a Paulo Raimundo — que, como se sabe, tem olhos de uma cor normalíssima, mede uns bons centímetros a menos do que o almirante, seguramente teria gosto em surgir sempre em público com casacos de veludo cotelê e nem sequer pode recorrer a um quepe para esconder do mundo os muitos desafios capilares que enfrenta. Se é apenas isso que está em causa, então não há motivos para grandes preocupações, certo?
Errado. Talvez seja mais prudente colocar a hipótese de esta demonstração de apoio a Gouveia e Melo ser, na verdade, uma demonstração de censura ao regime. Não há grande mistério nesta hipótese — basta olhar para o que se passou na pátria esta semana. Na segunda-feira à noite, uma pessoa que vivesse em Lisboa e precisasse de ir às urgências com uma criança perceberia que o D. Estefânia tinha um tempo de espera estimado de cinco horas, o que implicaria, claro, passar uma madrugada inteira no hospital. Se por acaso pensasse que a culpa era dos paizinhos que correm para as urgências ao primeiro espirro, ficaria esclarecido poucas horas depois com a manchete do Jornal de Notícias de terça-feira: “Procura das urgências baixou, mas doentes esperaram mais tempo”. O número de pessoas nas urgências reduziu e, na mesma altura, o tempo de espera subiu: o que é que explica isto? A falta de médicos nos hospitais públicos, claro.
Além de ler esta notícia deprimente, nessa mesma terça-feira quem vivesse em Lisboa perceberia rapidamente que o Metro estava de novo em greve. Não escrevo “de novo” por motivos estilísticos. Não foi a primeira paralisação — tinha havido duas pouco antes, a 6 e a 14 de novembro; e não foi a última — a greve repete-se a 10 de dezembro. Na mesma semana, na sexta-feira, outra empresa de transportes públicos entrou também em greve. O sindicato dos maquinistas da CP não gostou de uma frase dita pelo ministro Leitão Amaro e, por isso, com a mesma naturalidade de quem boceja quando tem sono, decidiu parar os comboios durante 24 horas.
Na mesmíssima sexta-feira, uma outra greve, agora de toda a Função Pública, fechou as escolas. Também aqui uma das motivações dos grevistas foi não terem gostado daquilo que um ministro disse. E também esta greve não foi a primeira nem será a última. Depois de anos de paralisações provocadas pelos professores, temos tido agora inúmeras greves provocadas pelos “assistentes operacionais”.
Nos hospitais, não há médicos. Nas estações, não há metro. Nos carris, não há comboios. Nas escolas, não há aulas. Caso ainda não tenha ficado claro, convém sublinhar que esta não foi uma semana de azar ou de coincidência — foi uma semana habitual, trivial, corriqueira. Estamos assim e vivemos assim.
Os críticos de uma candidatura presidencial de Gouveia e Melo desvalorizam o trabalho feito pelo almirante durante a pandemia. Afinal, dizem com um sorriso de troça, qual foi a dificuldade? O almirante só precisou de transportar vacinas de um lado para o outro, não foi? São excelentes perguntas, mas levam a mais perguntas, igualmente excelentes. A classe política só precisa de pegar nos médicos e colocá-los nos hospitais: qual é a dificuldade? A classe política só precisa de ter as carruagens de metro a percorrerem o curto trajeto entre as várias estações: qual é a dificuldade? A classe política só precisa de colocar os comboios a andar de um lado para o outro em percursos pré-estabelecidos: qual é a dificuldade? A classe política só precisa de manter as escolas abertas para que os alunos tenham aulas: qual é a dificuldade?
Não deveria haver qualquer dificuldade — mas, aparentemente, há. Como diria uma antiga presidente do Parlamento, vivemos rodeados de “inconseguimentos”. Os muitos eleitores que não têm um seguro de saúde que lhes permita ir a um hospital privado, que não têm um carro próprio para evitar os transportes públicos e que não têm dinheiro para enviar os filhos para um colégio sabem bem que mudam os governos, mudam os ministros, mudam os diretores clínicos, mudam os diretores das escolas, mudam as administrações das empresas de transporte — mas não muda mais nada. A dada altura, torna-se tentador pensar que é preciso que algo mais mude para que as coisas não fiquem na mesma. Numa semana como esta, a campanha do almirante faz-se sozinha.