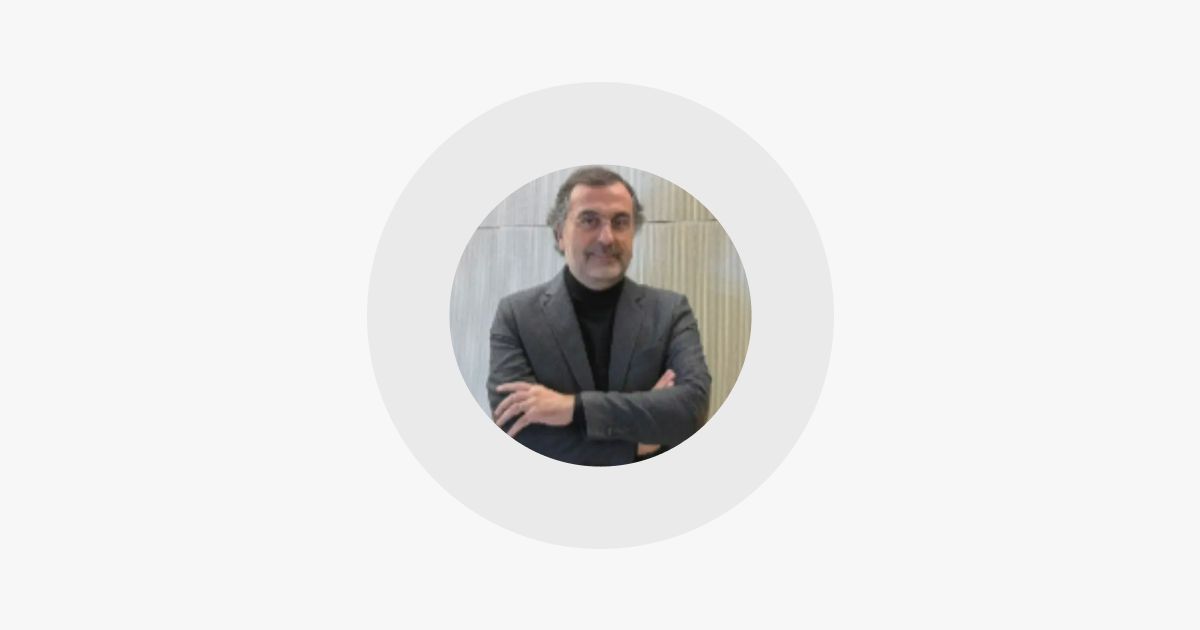Na penumbra daquilo que se convencionou chamar de civilização, entre arranha-céus que desafiam a gravidade e cafés onde o custo de um cappuccino ultrapassa aquilo que poderia sustentar uma família numa cidade indiana por uma semana, desenha-se uma ironia atroz que desafia qualquer pretensão de superioridade moral.
Enquanto o mundo ocidental debate fervorosamente sobre a estética ideal de uma latte art ou se a tonalidade de uma planta decorativa “encaixa” com a paleta do ambiente, famílias inteiras em Bangalore, na Índia, enfrentam longas caminhadas sob um calor escaldante para buscar água potável. O mesmo entusiasmo que dedicamos a decidir entre dezenas de tipos de pão numa padaria artesanal parece inconcebível para quem luta diariamente para garantir uma refeição básica.
Recordo-me, numa deslocação profissional a essa cidade em setembro de 2024, de ter cruzado o olhar de uma anciã vestida com um sari desbotado, enquanto recolhia plástico entre detritos. A profundidade do seu olhar, abismo de uma existência moldada pela adversidade, capturou-me por um breve instante – um segundo transformado em eternidade. É curioso como, em muitos dos debates sobre “sustentabilidade” em conferências ocidentais, a realidade de pessoas como aquela anciã raramente surge como protagonista. Hoje, reconheço aquele mesmo olhar nos rostos de muitos imigrantes que atravessam as nossas cidades, figuras translúcidas que habitam um palco onde nunca lhes foi concedido qualquer papel principal, enquanto nós discutimos freneticamente sobre a atualização de software mais recente ou qual filtro de Instagram melhor traduz nossa “autenticidade”.
Friedrich Nietzsche, ao escrever sobre a “moralidade de rebanho”, antecipou com lucidez a hipocrisia que permeia as estruturas sociais modernas. A sociedade ocidental configurou uma coreografia de inclusão superficial, uma dança de simulacros onde a diversidade é celebrada apenas enquanto não perturba as margens da nossa consciência coletiva. Enquanto colecionamos cerâmicas decorativas feitas por comunidades pobres para enfeitar as nossas prateleiras, essas mesmas comunidades lutam para ter eletricidade ou acesso a saneamento básico. Enquanto debates acalorados ocorrem nas redes sociais sobre o tom ideal de um hashtag ativista, famílias em regiões carentes lutam por condições adequadas para preparar as suas refeições. Conforme Michel Foucault observou, o poder opera não apenas através da coerção explícita, mas também por meio de sistemas aparentemente benignos que normalizam a exclusão. Vivemos num paradoxo: discutimos arduamente em reuniões sobre “diversidade no local de trabalho”, muitas vezes em escritórios climatizados, enquanto milhões enfrentam calor extremo sem energia elétrica. Aplaudimos expressões culturais exóticas em festivais, compramos tapetes artesanais para as nossas salas, mas resistimos a qualquer alteração significativa no tecido social por essas mesmas culturas, insistindo que “tolerância” basta enquanto a verdadeira inclusão permanece um ideal inatingível. O privilégio mostra-se em detalhes — como decidir qual a nova cor da capa do smartphone melhor combina com o nosso estilo enquanto a sobrevivência básica de tantos outros sequer é considerada.
A experiência do imigrante atual ecoa o mito de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra montanha acima apenas para vê-la deslizar de volta incessantemente. Tal como Sísifo, os imigrantes enfrentam uma repetição cruel de obstáculos: a desqualificação sistemática das suas competências, condições laborais precárias que negam estabilidade e a perpetuação de preconceitos que os mantêm nas margens da sociedade. Enquanto isso, o mundo ocidental debate quais os emojis que melhor representam a inclusão ou se as mensagens de marketing de uma qualquer marca parecem suficientemente “autênticas”, ou discutimos a importância de encontrar o “brunch perfeito”, ou decidimos sobre a cor exata de uma vela aromática para um ambiente relaxante. Jean-Paul Sartre lembra-nos que “o inferno são os outros”, mas para os imigrantes, o inferno é a constante negação do seu direito de ser “outro”. A condição de Prometeu também se aplica: condenado ao sofrimento reiterado, qualquer tentativa de progresso é implacavelmente corroída por novos obstáculos. Entre esses desafios, encontramos a barreira da língua, que não apenas dificulta a comunicação, mas também perpetua o isolamento social e profissional. Adicione-se a isso as políticas migratórias opacas, que muitas vezes deixam famílias em situações legais precárias, obrigando-as a viver em constante incerteza. O preconceito velado, manifestado em olhares desconfiados ou na recusa subtil de serviços, é outro peso na pedra que empurram. E, como se não bastasse, há o constante custo emocional de se adaptar a uma cultura que insiste em diluir as suas identidades num padrão homogéneo, transformando a integração numa quimera que parece cada vez mais distante. É irónico pensar que, enquanto os imigrantes lutam para ter os seus nomes corretamente pronunciados, nós passamos horas a discutir a tonalidade exata de uma fotografia para as redes sociais, qual a fonte que transmite melhor a nossa personalidade ou qual a aplicação “minimalista” que melhor organiza, de forma mais estética, os nossos dias caóticos, como se isso tivesse relevância para o mundo real.
John Rawls, ao propor o véu da ignorância, postulou uma sociedade equitativa – uma sociedade baseada na dependência mútua – onde as posições sociais não seriam predefinidas. No entanto, confortavelmente ancorados nos nossos privilégios, praticamos uma forma velada de darwinismo social, onde o imperativo de “adaptação” se traduz na anulação da identidade do imigrante em prol do conformismo. A globalização, apresentada como uma ponte entre culturas, frequentemente destrói as bases que sustentam a singularidade de cada uma.
Simone de Beauvoir, ao afirmar que “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, oferece-nos uma análise que pode ser reformulada: ninguém nasce estrangeiro; é transformado em estrangeiro por um sistema que converte diferenças culturais em deficiências sociais. A discriminação não é apenas um ato, mas uma estrutura profundamente enraizada. Nos cafés das grandes metrópoles, uma mulher muçulmana pode ser ignorada pelo serviço enquanto turistas ocidentais recebem sorrisos cordiais. Como na música clássica, onde o silêncio entre as notas é tão eloquente quanto a melodia, a indiferença é o verdadeiro peso da exclusão. Esse contraste denuncia não apenas preconceitos individuais, mas um mecanismo social que perpetua desigualdades sob o disfarce de neutralidade.
Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, na “Dialética do Esclarecimento”, expõem como a indústria cultural reduz a diversidade a uma mercadoria destituída de significado autêntico. Comemos em restaurantes étnicos enquanto torcemos o nariz para o cheiro das especiarias nas habitações sociais; celebramos danças folclóricas em festivais, mas rejeitamos as vozes dessas comunidades em âmbitos decisórios. Slavoj Žižek complementa essa reflexão, sugerindo que a tolerância multicultural é uma construção capitalista tardia, aceitando a diferença apenas enquanto ela não desafia a ordem dominante. A verdadeira diversidade, porém, exige ruturas e não acomodações superficiais.
A ética de Emmanuel Levinas, centrada no reconhecimento do Outro, oferece um paradigma essencial para uma transformação genuína. Aplicá-la significaria redesenhar políticas que priorizem o indivíduo em vez de categorias abstratas. Programas de acolhimento que promovam a interação autêntica entre imigrantes e comunidades locais poderiam humanizar experiências migratórias frequentemente reduzidas a números. Espaços deliberativos, onde vozes marginalizadas tenham impacto real em políticas públicas, seriam um passo decisivo. No entanto, persistimos num estado de apatia coletiva, desenvolvemos uma capacidade extraordinária de desviar o olhar, de transformar rostos em estatísticas, histórias efémeras. Como vi em Bangalore, é agora possível ver nos subúrbios de Paris, Londres, Berlim ou Lisboa, a pobreza e a exclusão têm muitas faces, mas a indiferença tem apenas uma: a nossa.
Nas sombras dessa civilização luminosa, milhões persistem na sua luta por dignidade. Como as crianças que vi a brincar nos bairros pobres de Bangalore, improvisando brinquedos, encontrando alegria no caos, os imigrantes resistem e, ocasionalmente, florescem. Não é um triunfo sobre a sociedade, mas apesar dela. Talvez, quando finalmente encararmos esses rostos e ouvirmos essas vozes, possamos compreender que a verdadeira grandeza de uma civilização não se mede pela altura dos seus edifícios, mas pela profundidade da sua empatia. Gestos como dividir uma refeição com um desconhecido, carregar o saco das compras de alguém em dificuldade, ou mesmo ouvir uma história sem pressa, tornam-se monumentos invisíveis de humanidade. Porque, no fim, serão esses gestos aparentemente banais de humanidade que determinarão quem somos como sociedade.