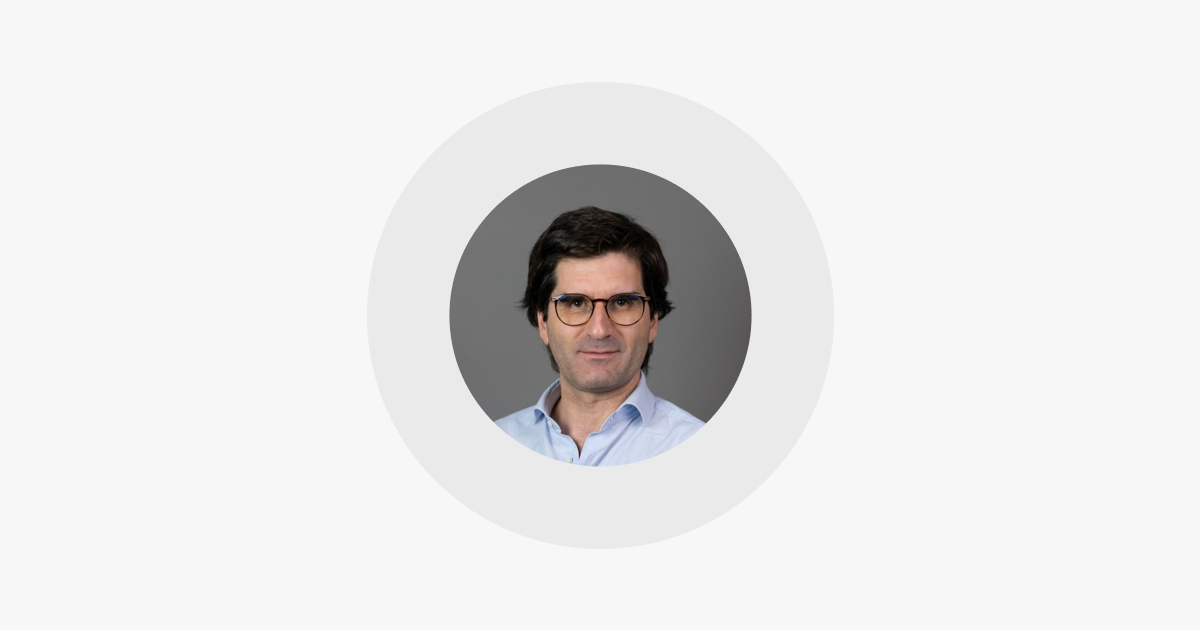Os franceses sempre tiveram esta mania: de cada vez que saem à rua para comprar uma baguete, acabam a fazer uma revolução. Na noite das eleições europeias, ainda a transpirar choque e pavor depois de uma derrota vexatória, Emmanuel Macron tomou uma decisão ao mesmo tempo corajosa e temerária: comportando-se como um jogador descontrolado num casino, pegou em todas as fichas que lhe restavam e convocou eleições legislativas imediatas. Seguiu-se, de forma instantânea, a tal revolução: implodiram as “linhas vermelhas” na política francesa.
À direita, a União Nacional de Marine Le Pen e de Jordan Bardella transformou-se num íman irresistível que provocou o caos em dois partidos vizinhos. O presidente dos Republicanos, Éric Ciotti, foi imediatamente, muito solícito, entregar as chaves do partido gaullista aos supostos rivais. Ato contínuo, a comissão executiva dos Republicanos, que discordou acesamente dessa inesperada aliança, reuniu-se para destituir Ciotti, mas o presidente do partido contra-atacou com a acusação de violação dos estatutos e teve o apoio dos tribunais. Detalhe: a assembleia dos rebeldes aconteceu num museu a poucos metros da sede dos Republicanos porque, por prevenção e castigo, Ciotti tinha mandado fechar as portas do edifício. Em entrevistas posteriores, Éric Ciotti transformou-se num apocalíptico frenético, descrevendo os adversários à esquerda como sendo portadores de “ódio, antissemitismo e violência”. Criticado de forma inclemente pelo que resta da direita tradicional, apresentou-se como um perseguido e, para comprovar a sua posição de mártir em potência, divulgou nas redes sociais uma carta que lhe enviaram com ameaças de morte.
No outro partido da direita, o drama atingiu igualmente proporções bíblicas. Marion Maréchal, sobrinha de Marine Le Pen e cabeça de lista às europeias pelo ainda mais radical Reconquista, tentou uma aproximação à União Nacional logo que foram convocadas as eleições legislativas. Em fúria, o líder do Reconquista, Éric Zemmour, demitiu-a em direto na televisão, acusando-a de ter “batido o recorde do mundo da traição” e de ter abandonado os militantes “como cães”.
Nestes dias, a esquerda imitou a direita: as “linhas vermelhas” foram trituradas com o mesmo zelo e empenho, mas daí não resultou paz, nem flores, nem passarinhos chilreantes. Antes das eleições europeias, o Partido Socialista e a França Insubmissa de Jean-Luc Mélenchon estavam divididos por um profundo fosso cheio de crocodilos. Um exemplo: os insubmissos, ao contrário do PS, votaram contra a continuação do apoio francês à Ucrânia. Outro exemplo: logo depois do ataque do Hamas a 7 de outubro, o partido de Mélenchon não usou a palavra “terrorismo”, preferindo descrever os factos como “uma ofensiva armada das forças palestinianas executada pelo Hamas” que deveria ser analisada “num contexto de intensificação da política de ocupação israelita em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Ocidental”.
Talvez por isso — corrijo: seguramente por isso — um manifestante perguntou a Sandrine Rousseau, dos Ecologistas, que também fazem parte da recém-formada aliança de esquerda: “Como é que pode estar ao lado das pessoas da França Insubmissa e como é que pode estar ao lado dos antissemitas?”. A resposta, cândida, foi: “É muito duro”. Raphaël Glucksmann, que foi cabeça de lista do Partido Socialista nas europeias, revelou-se igualmente sincero ao falar sobre a coligação a que deram o nome de Nova Frente Popular: “Não é um casamento por amor”.
Ao centro, Emmanuel Macron está como Nero, a tentar aproveitar as oportunidades políticas de ter o país a arder, para já apenas de forma metafórica. O Presidente francês apresentou-se como o último moderado de toda a França, condenou as “alianças profanas nos dois extremos” e denunciou os vários partidos “que não estão de acordo em quase nada, para além dos cargos a partilhar”.
Em Portugal, várias pessoas têm defendido, com impetuosa convicção, que a nação só voltará a ter estabilidade política e governabilidade garantida quando acabarem as “linhas vermelhas” e todos os partidos do bloco da direita juntarem as mãos e todos os partidos do bloco da esquerda fizerem o mesmo. É um desejo que pretende ser uma profecia, mas França, como sempre na História, antecipou-se a todos nós. Para já, está a mostrar que, ali, o fim das “linhas vermelhas” trouxe o caos, a divisão e o radicalismo. Naturalmente, não é forçoso que isso se repita em toda a parte: o facto de, em 1793, os franceses terem decidido apresentar Luís XVI à guilhotina não levou a que todos os reis europeus ficassem, de forma imediata, sem cabeça — mas serviu-lhes de aviso. Agora, a nós também. Pelo sim, pelo não, seria prudente que todos dedicássemos uma pequena parte dos nossos dias a ler jornais franceses.