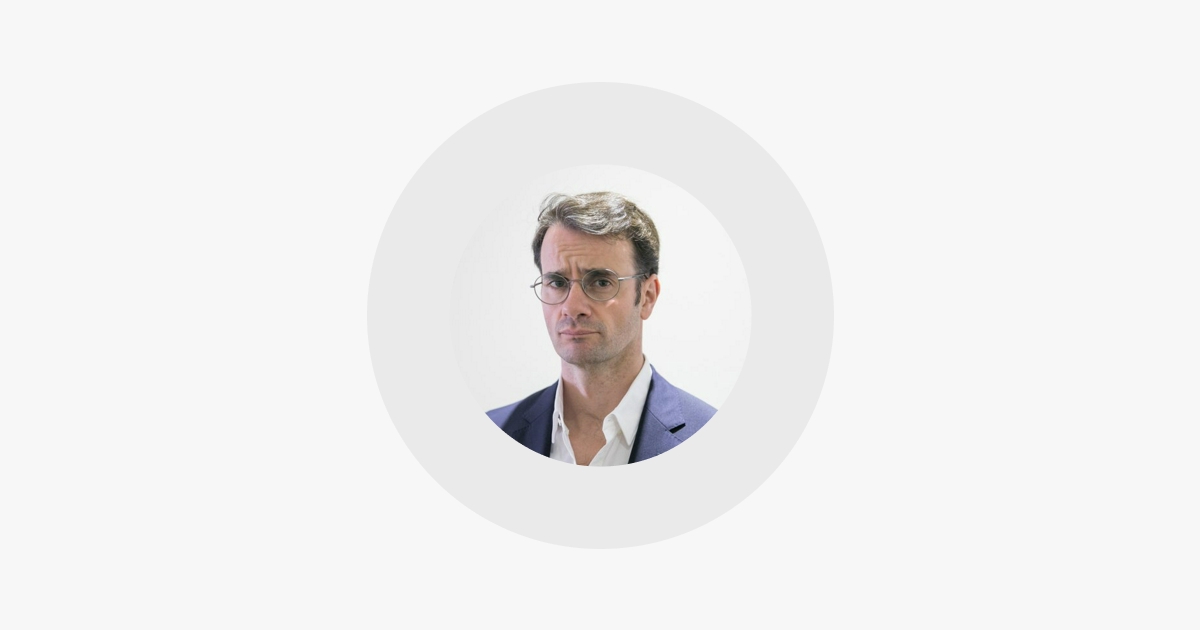A polémica do logotipo que o anterior Governo substituiu e que o novo Governo recuperou é a prova de que o país está profundamente dividido. Não entre esquerda e direita, ou progressistas e conservadores. O grande cisma dá-se entre quem foi adolescente nos anos 90 e liga a logotipos, e o resto das pessoas, que acha tudo isto uma estupidez. Só quem não viveu a adolescência nessa década é que se atreve a desvalorizar a importância de um logotipo.
Eu, nascido em 1977, que implorei aos meus pais que me dessem um blusão de penas Duffy, que usei os meus All Star até esfarelar a sola, que bati a feira de Carcavelos à procura de uns jeans Chevignon da candonga cujo símbolo se parecesse mesmo com o verdadeiro, sei bem que um logotipo não é apenas um logotipo. Mesmo que as calças sejam iguais, umas Lois nunca serão umas Levi’s. A nossa geração cresceu a valorizar o cavaleiro da Polo, o crocodilo da Lacoste, o rabisco da Benetton, o nó das Amarras, a flor da El Charro, e não consegue fingir que os logotipos lhe são indiferentes. É obvio que não são. E, da mesma forma que havia quem usasse ténis Redley e quem calçasse Vans, Portugal divide-se entre quem prefere o logotipo moderno de Eduardo Aires e quem opta pelo antigo, com quinas e esfera armilar. Dois campos irredutíveis. O que é curioso, se pensarmos que tudo começou com o desejo de ter um símbolo mais inclusivo.
Esse foi, aliás, o grande equívoco deste processo. Nasceu inquinado. Querer um símbolo inclusivo é não saber o que é um símbolo. Um símbolo contém aspectos únicos da entidade que quer representar, para ser mais facilmente identificada. É, por definição, exclusivo. Por exemplo, pensemos num clube de futebol: ninguém se lembraria de redesenhar o emblema do Sporting e acrescentar-lhe um dragão e uma águia, só para o tornar mais inclusivo. O logotipo não serve para agregar, serve para distinguir. O objectivo é tanto atrair como repelir De um lado nós, os das armas e restante quinquilharia heráldica; do outro lado eles, os que não têm nada disto.
Tenho pena que o logotipo verde, vermelho e amarelo não tenha vingado. Ao contrário do que tem sido dito, é um símbolo profundamente português, na medida em que se insere na tradição quase milenar dos grandes logotipos da nossa história que surgem durante o sono. Como as chagas de Cristo que D. Afonso Henriques colocou na bandeira depois de Jesus lhe ter aparecido na véspera da batalha de Ourique, também este logotipo tricolorido nasce de um sonho. Não é o sonho de um cavaleiro nobre, mas de um burocrata da comunicação. É o sonho de Portugal ter uma marca sem qualquer factor distintivo (tirando a paleta), para que não haja a mínima hipótese de alguém se sentir ofendido com elementos históricos que remetem para as desgraças que tiveram lugar naquela época tenebrosa a que costumamos chamar “o passado”. E que, além disso, tenha leitura na internet em ecrãs com poucos pixéis. Tão inocente, tão inofensivo, tão seguro, que em vez de ser logo, devíamos chamar-lhe lego.
Desta vez, falhou. Paciência. Mas a utopia fica. Enquanto não medra, é ir sanitizando noutras áreas, torná-las mais inclusivas. Para a próxima, conto com a actualização progressista da culinária portuguesa. Já é tempo de tornar o bacalhau à Braz mais inclusivo. Sem coentros, para agradar a quem tem nojo; sem azeitonas, por causa do olival superintensivo; sem batatas, porque os fritos são péssimos para o colesterol; e sem ovos nem bacalhau, para não melindrar os vegan; e cru, para não incentivar os pirómanos.