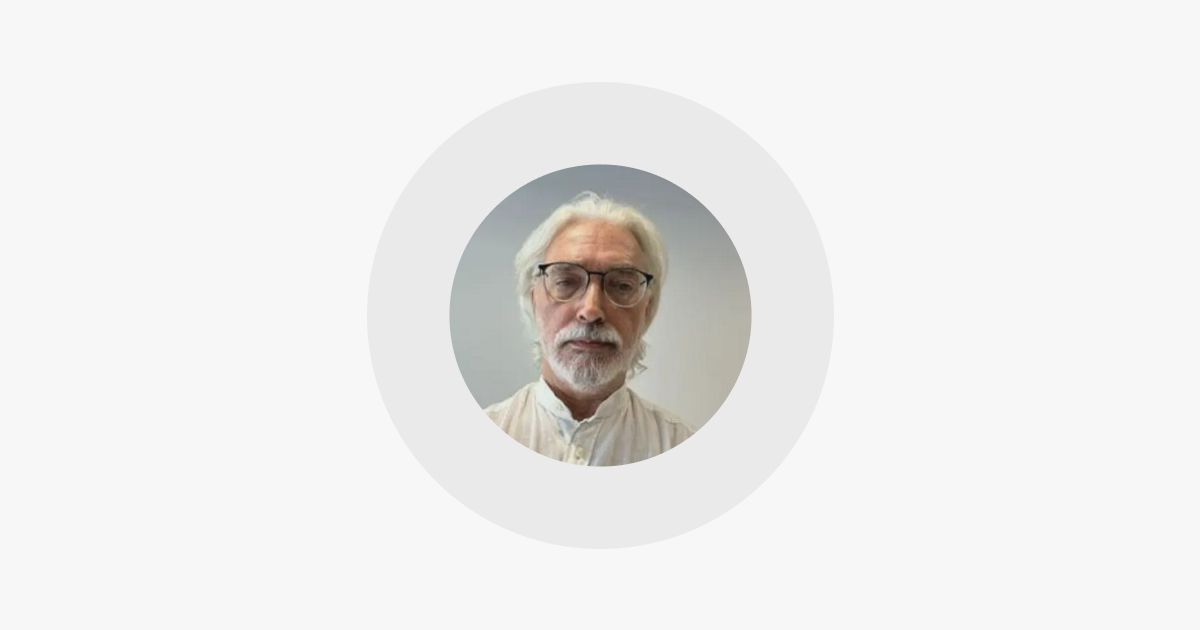Há um ambiente estranho na vida pública. Tudo parece igual, e parece não ser. Percebe-se na rua uma expectativa tensa de que tudo continue na mesma ou se altere – e também se percebe que a maior parte das pessoas não sabe o que é que prefere.
Algumas coisas permanecem. Os momentos e acções ritualizadas ao longo do tempo não desapareceram, estão agarrados aos dias pela inércia e mantêm-se apresentáveis pelos cuidados continuados que lhes são prestados – a saber, os congressos partidários, o festival da canção, as declarações do senhor presidente, os erros dos árbitros, os dramas das influencers, as guerras dos outros. Os políticos continuam a ir à televisão, são regulares como os sinos de igreja, quando um deles morre ou arranja trabalho é substituído por outro igual. Os políticos dizem as coisas que é tradicional dizerem, cada um na sua especialidade, as mesmas coisas tranquilizantes. Opõem-se uns aos outros de uma maneira ordenada e pré-estabelecida. As suas ideias dormem na mesma cama, umas com os pés para baixo e as outras com os pés para cima. Qualquer outra que se queira deitar ao atravessar é merecedora de um repúdio uníssono e ofendido.
Outras coisas mudaram. Não voltaram a ser vistos chaimites na rua, o MDLP foi extinto e o PCP também. O Campo Pequeno retomou as touradas e, na mesma linha, abriu-se a concertos de artistas, artistos e artistes. Os soldados andam de cabelo cortado, já não são magalas nem torram o pré com criaditas, os SUV encontram-se dispersos por lares e associações com uma utilidade pública equivalente. O Tridente e o Arpão navegam, os marinheiros sabem nadar. Os soldados já não vão morrer nas plagas africanas – pode acontecer algo de semelhante nos campos de treino ou à porta de discotecas, mas é muito raro. Os oficiais precisam agora de menos soldados, as Forças Armadas são uma força de elites. Portugal tem agora relações cordiais com os países africanos que falam mais ou menos português, os portugueses e os povos libertados são irmãos que se acompanham há 50 anos na mesma senda de progresso.
Há coisas que não se percebe se mudaram ou estão na mesma. O tamanho da memória é que dá sentido às coisas do presente, as mudanças têm qualidades diferentes consoante o ponto de partida. Há problemas na saúde, na justiça e na educação, a censura existe nas universidades e nas redacções, a emigração qualificada é muito grande, mas já era assim há um mês atrás. Parece que antes do 25 de Abril era muito pior.
Há coisas que mudaram, mas muito mais mudaram os nomes que lhes dão. Existe uma sensação de insegurança nas ruas, não devida a qualquer delinquência, muito menos a delinquentes com uma hipotética e particular característica. É a mesma sensação de insegurança que parece existir nas prisões, mas não existe. A liberdade não poupa ninguém. E para quem é mais sensível, em especial para falsas sensações, é permitido não sair à rua, ou fugir das prisões – é com cada um. A falsa sensação de insegurança tem por causas um Estado pouco providente e sovina, a falta de autocarros e de caixotes de lixo, mas também de teatros de ópera, deve-se à diária repressão do pequeno comércio de bens voláteis, à violência policial e ao racismo. Todas as falsas sensações são propagadas pelos jornais e pela televisão.
As cidades mudaram. Tornaram-se cosmopolitas, em toda a parte há irmãos brasileiros a falar e a atender, paquistaneses e indianos curvados durante o dia sobre trabalhos duros e, à noite ou fora das horas de serviço, divertindo-se segundo as suas culturas e engraçadas tradições. Angolanos, cabo-verdianos, timorenses, grávidas de 9 meses e doentes, comerciantes de bens ilícitos que pretendem expandir os seus negócios, mais irmãos brasileiros, fugitivos. Não são ainda alemães com formação em física teórica, ou poetas nórdicos, mas é um começo.
Todas as semanas há uma possibilidade de eleições, um ministro que se engana e uma greve nos transportes. Todas as semanas há uma lei mal feita, uma regulamentação que não foi publicada e uma condecoração atribuída. Todos os dias há um incidente no parlamento, um incesto político, um Romeu que não se mata por engano nem por vergonha, e uma Julieta que desistiu da dieta. Coisas que não existiam antigamente.
Todas as manhãs há um julgamento adiado, acusações que prescrevem e inocências que se vão instalando muito devagar. De meia em meia-hora surgem novos dados sobre o caso de um homem de idade irreconhecível encontrado num poço onde não passa ninguém.
Todos os dias são conhecidas mulheres que sofrem maus-tratos às mãos de maridos violentos que algumas vezes as matam. Todos os dias são desconhecidos homens que sofrem violências indescritas às mãos de mulheres manipuladoras histéricas que os atazanam de morte mas não os matam, pelo menos de um momento para o outro. Incontáveis crianças assistem a tudo isso, sofrem horrores que se misturam com abandono, fome, frio e sovas. Todos, pais e filhos, uma sogra acamada e um cunhado ainda puto e toxicodependente, vivem num apartamento de três assoalhadas com um jardim que dá para a frente e onde vicejam carros e motorizadas a abrir. Arrependem-se de ter casado, de ter tido filhos, de ter aceitado a velha que estava muito bem no hospital, de não terem, ao menos, ocupado uma casa maior.
Há notícias de gente infeliz que ocupa esquinas e se oferece, que já não sabe quem é. Há quem se ponha a conferir as peças visíveis do corpo e decida que tem algumas a mais e outras a menos – cada vez acontece mais, assustadoramente mais, como um contaminante do pensamento capaz de atacar adolescentes sós ou mal acompanhados.
Tudo isto foi sempre assim ou era para já não ser assim?
O desaparecimento da sanguinária repressão fascista permitiu que grandes volumes de génio oprimido desabrochassem. Ao princípio, não se notou excessivamente. Dez gerações de artistas incrustados de medo e de estro perdido aguardavam à porta da liberdade e entraram de rompante. A maior parte dirigiu-se ao bar e por lá ficou. Os outros esforçaram-se, mas não se devem ter esforçado mais do que prometia a força humana e, nunca tendo lido os Lusíadas, caíram de maneira inapercebida numa apagada e vil tristeza. Quando um dia se entreviu a profundidade que os esburacava, percebeu-se que evoluiriam até à esplendorosa geração de criadores desta semana. Locutoras de televisão que escrevem, moças que cantam pelo nariz com muita electricidade e pouca roupa, jovens que influenciam sem necessidade de grande vocabulário, intérpretes, performers angustiados por uma poderosa ontologia de subsídios em atraso.
Mas o tempo tudo reabilita.
Obras que copiam na imagética o “Maria! Não me mates que sou tua mãe”, a criação esquecida mas indestrutível de Camilo, começam a ser clássicos. “Vai até onde a gasolina te levar antes de entrar na reserva”, “Não te esqueças de passar pelo supermercado, antes de me amares”, “Vem até mim de pantufas, que a minha mulher está a dormir”, enfim uma interminável colecção de títulos enormes e de estrutura imperativa (“Ama-me como eu sou, e nunca vás ao médico dos olhos”…) começam a ser obras de coturno elevado quando se cotejam com a recente ninhada de manuais de empoderamento e coaching. São de inspiração bastante repetida, em quase todos se descobre alguém que esteve prestes a afogar-se, exposto a danos cerebrais por anóxia, e que ao acordar decidiu ir para nadador-salvador.
A pergunta repete-se: isto sempre foi assim, era para ser assim ou aconteceu alguma coisa com que ninguém estava a contar?
Antigos vultos que tinham atravessado metade do século silenciados e que eram conhecidos de toda a gente por causa disso, foram remetidos a um silêncio maior. Tinham produzido conteúdos, no seu tempo e apesar da censura. Mas não eram conteúdos adequados – eram apenas romances, poesia, peças de teatro, pinturas e pensamentos. Poderiam vir a ser reconhecidos pela eternidade mas, durante uma dúzia de anos antes da eternidade ter o seu início, começaram a não existir.
Camões, que tinha um escravo e acutilou islamitas; David Mourão-Ferreira, o príncipe amigo de Petrónio; Aquilino Ribeiro que andava pelas serras a colher palavras e fez com elas ramos únicos; José Cardoso Pires, o mestre das frases insubstituíveis; Jorge de Sena, o magnífico exilado de terrível feitio; Natália Correia, espessa, aromática e inconstante como o fumo; Torga, o rebelde lírico também acusado de telúrico; Agustina, genial, a única que escreveu visceralmente como mulher sem se preocupar com essas idiotices. Tantos.
Outros tiveram mais sorte ou outra coisa qualquer. Urbano Tavares Rodrigues de pouca chama mas fiel; José Saramago, que nasceu pobre e morreu em maior pobreza; as três Marias todas ao mesmo tempo e com os mesmos problemas; Ary dos Santos, o copioso poeta que podia ter sido grande se tivesse escolhido ser livre; Sophia, que fez poemas sobre o mar e a madrugada e outros poemas sobre a madrugada e o mar.
E ainda os que foram atravessando os anos impunes porque eram demasiado evanescentes, únicos ou incompreensíveis. Eugénio de Andrade, o de poucas palavras como um vício; António Lobo Antunes, o incessante imitador de si próprio; Herberto Helder, vigoroso viajante sozinho; Ramos Rosa, o de filigrana; Luís Pacheco, o míope obsceno e exemplar, de uma lucidez impossível; Al Berto, sofredor irregular e de píncaros imprevistos; O’Neill, Nemésio, Fernando Assis Pacheco; Pessoa.
O cinema teve documentários, actores populares e o Branca de Neve. Teve curtas metragens e outras curtas que já não são do tempo de António Lopes Ribeiro. O Pátio das Cantigas e a Canção de Lisboa reapareceram a cores, estrepitosos e sem os inconvenientes do talento – o execrando talento, esse ignominioso motivo de exclusão para quem não tem nenhum. A forte criatividade que fez estes filmes novos envergonhou-se de ir mais longe e mudar-lhe os nomes velhos. Quão definitivamente internacionais seriam The Backyard of the Songs e o Lisbon’s Rap. No teatro, a veia popular foi alimentada de calão grosseiro e mulheres nuas, até ao vómito – antes de voltar ao figurino de ouropel, lantejoulas e música simples. Aveia erudita – que ouvira certas coisas acerca da rive gauche e se pôs a imaginar um cacilheiro como um bateau-mouche – alimenta-se de monólogos, ensaios e mortes de fascistas. Outras coisas, antigas que passam em teatros menos complicados, servem para o gosto primitivo de cotas e ricaços – para quem lancha torradas com pouca manteiga e considera que os dramas púbicos e circum-umbilicais se prestam demasiado à mentecapsia deslumbrada.
Em épocas próprias há portugueses que ganham medalhas de bronze e ficam num honroso oitavo lugar. São émulos de Joaquim Agostinho, dos Magriços, ainda jogava o Eusébio, que em 1966 não esmagaram a Inglaterra por uma unha negra, da Rosa Mota, de Livramento, Adrião, Jesus Correia, Vaz Guedes e, à baliza, o imortal Ramalhete.
Os portugueses edificaram a maior omelete do mundo e lançaram em simultâneo o maior número de aviões de papel. Outros 383 recordes portugueses, além destes dois, fazem do Guinness aquilo que ele é hoje – uma realidade que ainda merecerá ser destacada por um presidente. Nada disso é comparável com todo o parque escolar, incluindo 3000 escolas primárias em pedra, edificadas antes da omelete. Ou com todo o parque industrial, rede viária, hidroeléctrica, hospitalar e planos de desenvolvimento lançados antes dos aviões de papel. Como não é comparável o magnífico aeroporto de Lisboa, amplo, moderno, funcional, da última geração tecnológica (embora ainda por construir) com o velho, decrépito e acanhado aeroporto da Portela (já construído há 82 anos, mas muito à pressa, em apenas 4 anos). Como comparar as centenas de bairros de casa económica, que apenas serviam para habitação, com as políticas de inclusão que agora contemplam a queima festiva de autocarros e visitas de presidentes. Como comparar o actual, estóico e bem sucedido esforço de manter a economia portuguesa a afundar-se apenas muito lentamente com os índices de crescimento de há 50 anos, os mais elevados da Europa, mas à custa da brutal desconsideração pela pessoa humana – crianças que eram obrigadas a saber a tabuada, jovens que iam para escolas profissionais em vez de tirarem mestrados na área das ciências sociais, multidões de adultos que trabalhavam na indústria pesada, na CUF infestada de cheiros irritantes ou em Sines, com esforço, em vez de criarem conteúdos ou terem subsídios de inserção, desemprego, complementares e de apoio. E os velhos, que não tinham televisão com programas animados, que tinham netos e adiantavam uma sopa para o jantar, e que um dia morriam em casa e não no hospital sob cuidados profissionais e quase sempre durante a noite.
A memória, a pessoal e terrível memória que se lembra de tudo. A que morre quando morremos homens que a transportam!
A memória, a simpática e aprendida memória que julga saber. A que se perpetua enquanto forem vivos aqueles que a inventaram!
O Almirante Gouveia e Melo propõe-se ser Presidente da República. A população inquirida sobre essa possibilidade considera-a melhor do que qualquer outra.
Trump foi eleito contra Kamala — muito menos vezes é referido que os republicanos venceram os democratas. Putin sustenta a guerra contra Zelensky, não é habitual a notícia de que um regime autocrático de estrutura socialista se confronta com uma república semi-presidencialista democrática. A França é Macron, qualquer consideração do regime semi-presidencialista francês só emerge na discussão quando o pensamento de Macron é discutido. A Coreia do Norte é Kim Jong-un, não é dito por ninguém, muito menos por Bernardino Soares, que é uma ditadura comunista.
As ideologias têm vindo a perder importância no argumentário dos políticos. Mantém-se a sua referência no discurso público como modo de balizar um território com denominação familiar mas de limites imprecisos – mas não mais do que isso. A direita e a esquerda já não são locais onde se está, mas direcções para onde os passos dos políticos se dirigem mais vezes. A caracterização ideológica dos políticos e das políticas perdeu uma grande parte da precisão e da sua capacidade para excitar o imaginário popular.
A importância que é dada à figura do homem político e a pessoalização da política são cada vez mais notórias. Particularmente em países falhados como Portugal, mas em todos os países nos quais os problemas sociais estão em agravamento, as ideologias são olhadas com desapontamento pelos eleitores. A funcionalização da actividade política, a cargo de partidos que perderam os mecanismos de selecção natural dos seus quadros, originou a emergência de dirigentes medíocres e que nunca foram temperados em qualquer tipo de dificuldade real. O discurso e a prática erráticas de dirigentes sem qualidade confunde a mensagem política. Muitos nem serão mentirosos, nem más pessoas, são apenas incapazes e intelectualmente indigentes. Tendem a não se aperceber disso, mas as pessoas percebem, percebem sobretudo a vacuidade do que foi dito e a inutilidade do que foi feito. O desalento dos eleitores tem como primeira consequência a abstenção nas eleições. Depois, uma atenção acrescida ao actor político, não às suas políticas mas ao seu carácter, não às suas ideias mas à encenação do discurso, não aos projectos mas à capacidade para actuar de imediato. O passo seguinte é o apelo a um homem providencial.
Outra vez a memória, a terrível memória. Tudo isto foi sempre assim ou era para já não ser assim?
Os portugueses não gostam do estado em que estão. Começam a duvidar do que andam a dizer-lhes há muitos anos. Estão chateados, estão assim tipo mesmo bué chateados – que é uma maneira moderna de verem crescer uma desilusão sem fim.
É uma ironia triste e desanimadora que as pessoas possam dizer outra vez: “Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar”. Como se fosse verdade que o feitiço se vira contra o feiticeiro, às vezes. E contra os aprendizes de feiticeiro, sempre.