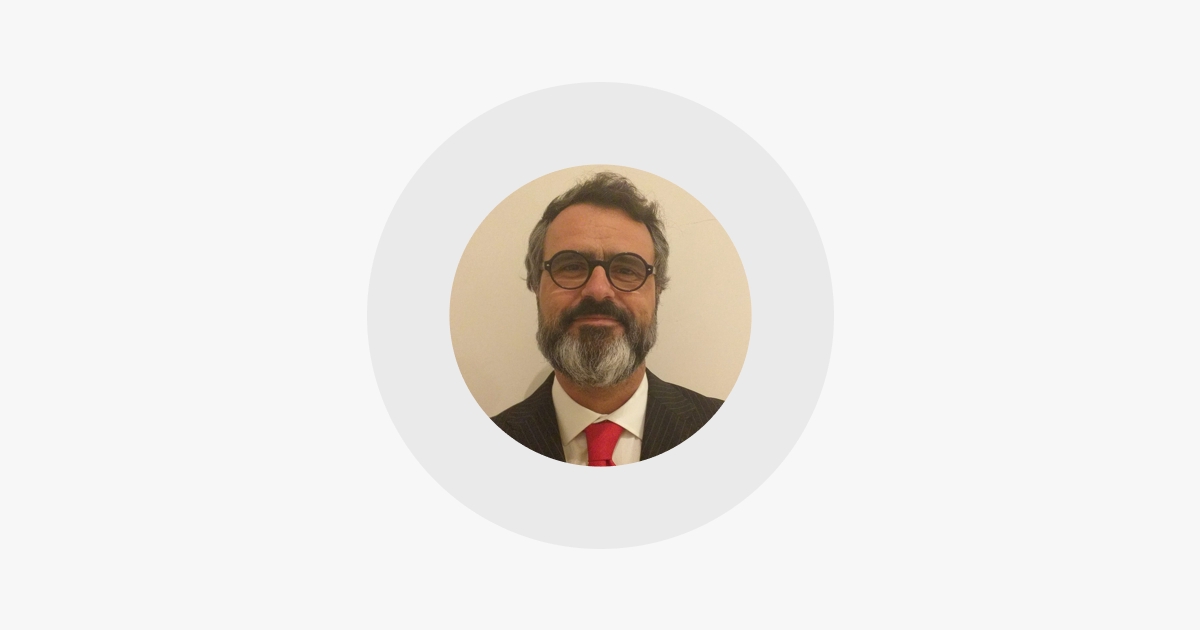Numa semana em que a disputa pela liderança da oposição se confundiu com a dos melhores lugares num carrossel – Paulo Raimundo no seu muito proletário carrinho dos bombeiros; Pedro Nuno Santos agarrado à chaleira da Alice, obscurecido por Mariana Mortágua quando o seu cavalinho sobe; Ventura, todo pranto e ranho, berrando que a nave espacial gira muito depressa – o comentariado, reunido em volta da infantil algaraviada, discutia se, numa obscura alínea do Programa de Governo, dizia que o alívio fiscal era, estava, acresce ou será. E assim, foi com gosto que o país viu Daniel Oliveira e Carmo Afonso, besuntados de algodão doce, com o seu Wittgenstein numa mão e o balão da Patrulha Pata na outra, a discutir, enquanto deitavam um olho na canalha, a importância das proposições na representação do mundo. O seu proverbial desprezo pela verdade e pelas palavras, contudo, recordou-me a fragilidade dos fios que nos seguram ao mundo.
Este não é, miseravelmente, o tempo dos cidadãos, mas dos prestidigitadores da linguagem. Em tempos de retórica total, de um renovado império da retórica – em que a palavra parece mais do que nunca ser o destino de cada um e os golpes de Estado se dão ao som de slogans mais do que de armas – a verdadeira tragédia é os prestidigitadores condenarem ao exílio os cidadãos do mundo. Neste sentido, a filologia – o “amor à palavra” – transcende o significado de mera disciplina especializada e obscuríssima ocupação académica, e ascende a severo e nobre compromisso de todo o homem que renuncia ao esquecimento.
Para que a palavra seja epifânica, sábia e pura, ela deve gerar-se no ventre da inteligência que sanciona o seu conteúdo. A anorexia do pensamento contemporâneo, contudo, mais não faz do que paradoxalmente produzir uma hipertrofia de palavras degeneradas. É necessário redescobrir o rigor da razão, exercer diligentemente o intus legere, base etimológica de intellegere – essa leitura atenta e inteligente dos outros e do mundo que exorcize a superficialidade e a banalidade – para reivindicarmos o mundo, para nos reencontrarmos nessa forma de resistência inalienável e irreprimível que apenas a memória consente.
Dissecada por cientistas, analisada por historiadores, cantada por poetas, a memória – os gregos chamavam-lhe Mnemósine, a deusa que em nove noites de amor com Júpiter gerou as nove Musas – é uma dimensão constitutiva tanto de uma comunidade e de um povo, como de um indivíduo e da sua interioridade. É na fidelidade ao tempo que o nosso passado, revelando-se, nos garante um sentido: o homem refaz-se porque, pela filigrana reinventada da memória, aguarda e permanece sempre e inegociavelmente em todos os instantes que lhe são oferecidos.
À medida que “folheamos” o livro da memória, procurando as palavras que se nos vão tornando imprescindíveis, arrancamos (etimologicamente), uma por uma, folhas a todas as linguagens que, para nos conseguirmos decifrar no mundo, foram compondo o nosso intrincado diálogo interior. Mais frequentemente do que desejávamos, em busca da rosa de Caproni, encontramos apenas espinhos e a dureza crua do caule.
Esta constante luta com a realidade é comum a todos os homens: todos nós lutamos com o real sempre que não conseguimos encontrar palavras para expressar o mundo que nos rodeia e para nos expressarmos a nós. Sem palavras, vemo-nos elididos pela realidade: vivos mas ausentes, fósseis; vestígios sem qualquer consciência do que somos, tudo o que restaria de nós seria o indizível, um silêncio sinistro e caiado. A mais exacta solidão.
Com o tempo, tenho percebido que nem sempre são as palavras que precisam de ser indagadas, mas o seu veredicto: o significado visceral e cristalino, a ressonância arcaica e perene que exercem sobre nós e sobre a nossa visão do mundo.
Há muitos anos, num percurso juvenil que aprendi a conhecer como a palma da mão, dei por mim a subir regularmente umas Escadinhas da Unidade (uma escadaria íngreme e longa) que conduziam à Rua Alegre: apenas mais tarde (tarde demais?) me apercebi do quão poética era a ideia de o júbilo repousar no topo de uns degraus e de aí se reunir o cântico, aquela voz que de outra forma correria o risco de se tornar demasiado débil e perdida entre a pressa e a negligência, a confusão e as trevas. Sentir as palavras que ardem dentro de nós nada mais é do que incendiar o real sem nos contentarmos com as suas cinzas. Se não conseguirmos suportar o peso da privação, o preço da espera, o pathos da distância, perdemos os que amamos, perdemo-nos a nós, perdemos a alegria.
E é dessa alegria que nos fala a Odisseia, pois no centro da sua narrativa em jeito matrioska o que encontramos é uma profundíssima e contínua exploração da identidade: quem és tu, Ulisses, se a tua manha, aquele truque que simultaneamente te define e de que precisas para permanecer vivo, te reduz a “ninguém”? No final da Odisseia, obtemos as respostas às perguntas que começam a formar-se no primeiro verso, cuja primeira palavra é andra, “homem”: ser um homem, um ser humano, extremamente inventivo e criativo, mas inevitavelmente sujeito a forças terríveis bam para lá do nosso domínio – a morte, por exemplo – significa ser algo maravilhoso e, ao mesmo tempo, nada.
Se as grandes mudanças se pressentem antes de mais nas palavras, impõe-se então o imperativo de um novo léxico – preciso e não mistificador – para nomear este presente tão global e despedaçado, tão alheio e invasivo. Lucrécio, apóstolo da razão, escrevendo em meados do século I a.C. o seu poema De Rerum Natura, confessava criar, durante a vigília de noites estreladas, novas palavras (nova verba) que lhe abrissem novos céus e novas terras, que lhe permitissem difundir as suas novas ideias, a sua “revolução” (novae res), pela tradicionalista e republicana Roma. Também a nós se impõe uma vigília por nova verba. Mas terão os meninos do carrossel novae res a propor?